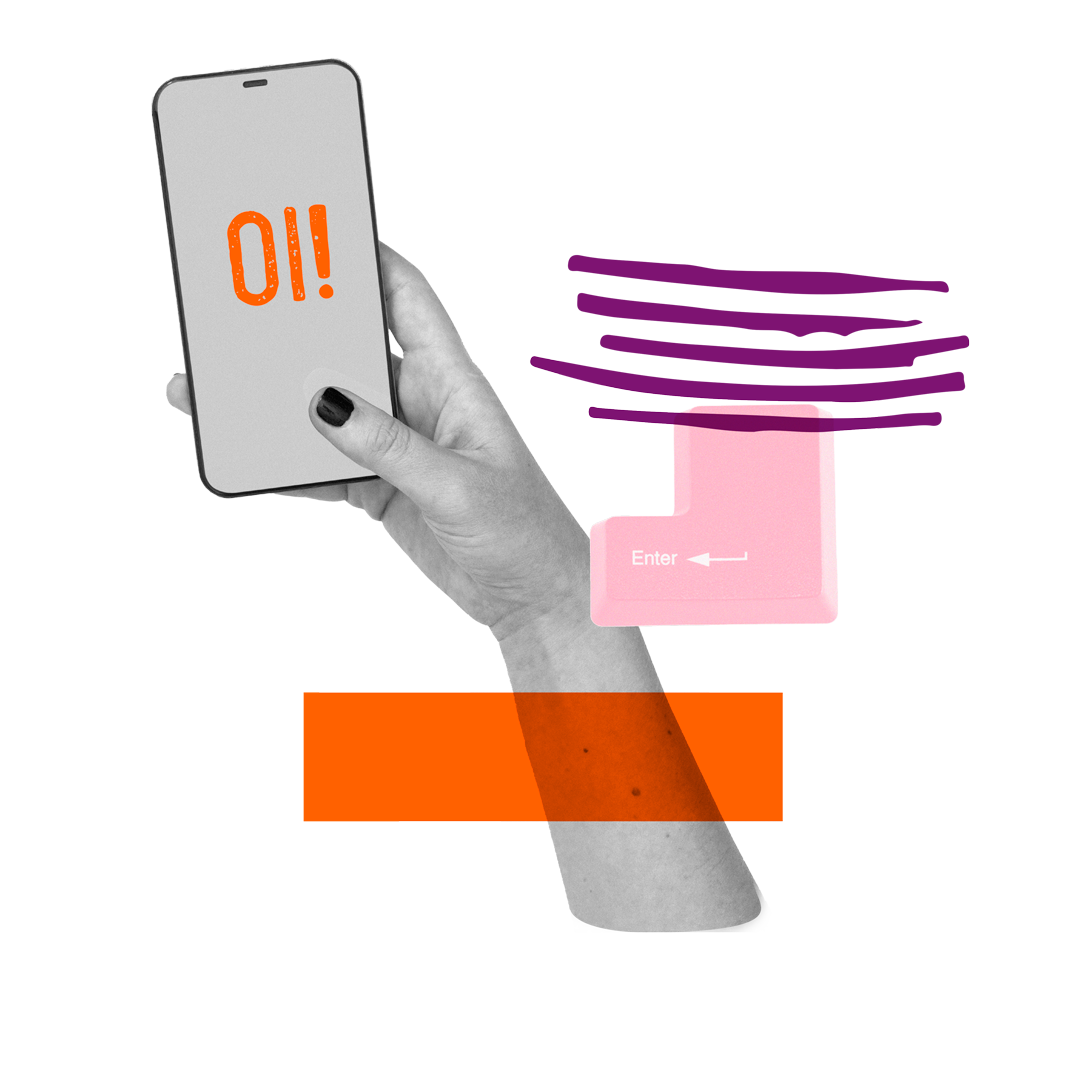Como a noção discursiva de histeria me auxiliou na construção de personagens
Não sou uma especialista em psicanálise, mas, desde o mestrado, na disciplina de Estudos da Linguagem, que era ministrada pela minha orientadora, comecei a ter contato com alguns conceitos e compreensões da psicanálise que influenciaram e ainda influenciam minha visão de mundo. Isso aparece de forma superficial, por exemplo, no livro Digo te amo pra todos que me fodem bem, que traz algumas reflexões da protagonista Vanessa amparadas na ideia de objeto do desejo de Lacan. Essa influência ocorre, provavelmente, porque o desejo é um tema que me interessa muito e a psicanálise é uma boa ferramenta para a compreensão dele.
Na escrita do meu segundo romance, um dos momentos mais difíceis de construção da história foi o grande diálogo entre Elvira, minha protagonista, e Liz. Desde que percebi que a história teria uma guinada em torno da amiga, Liz, comecei a me questionar sobre como fazer justiça a esta personagem. Como o livro Migalhas é um dos mais pessoais que já escrevi, onde ficção e registros reais foram completamente misturados, escrever a personagem Liz significava dar nova vida a pessoas que me fizeram sofrer. Então, era muito tentador construí-la como uma caricatura exagerada. E talvez eu não tenha conseguido evitar isso completamente.
No entanto, durante o processo, conversei muito sobre Elvira e Liz com a minha psicóloga — o que os terapeutas não precisam aguentar, né? Uma vez, quando eu explicava a tensão entre minhas duas personagens na terapia, fui recebida com uma observação que me pegou de surpresa: “A Elvira é uma histérica, né?”. Até então a palavra histeria nunca tinha aparecido nas sessões e eu acreditava que essa era uma das heranças de Freud que todo mundo já tinha deixado para lá, mas pedi indicações de leituras para entender melhor.
A principal recomendação que recebi foi de ler O Caso Dora. Parti para a leitura esperando encontrar uma definição bonitinha de histeria, mas acabei num novelão pra lá de divertido. Continuei com muitas dúvidas, mas continuei insistindo na conversa. Descobri então que Dora é um dos casos clínicos que muda a compreensão de Freud sobre a histeria. Antes Freud a associava com um trauma psíquico que geraria um sintoma como efeito. No caso da histeria, as questões que atravessavam esse trauma estavam sempre relacionadas à sexualidade feminina. Posteriormente, essa definição se modifica e a histeria passa a ser caracterizada por um desejo insatisfeito que teria origem em uma fantasia inconsciente.
O legal do Caso Dora é que é um estudo clínico que Freud não chega a concluir. Dora interrompe a terapia e, avaliando retrospectivamente, Freud começa a enxergar seus erros de diagnóstico. É um caso bem intricado, mas vou tentar simplificar. À primeira vista, é uma grande safadeza entre quatro pessoas. De um lado temos a família de Dora e do outro a família K. O pai de Dora tem um caso com a senhora K. E o marido dela, o senhor K, por sua vez, tem uma queda por Dora. Dora começa a ter sinais de adoecimento depois que o senhor K declara o seu amor para ela à beira de um lago. E é a partir desse ponto que Freud entra em campo para desvendar o que rolou. No começo ele acha que Dora corresponde o senhor K e que está reprimindo seus desejos. Mas Dora recusa essa interpretação. Ele parte então para explorar a relação conflituosa de Dora com o pai e investigar se há ou não um desejo da filha pela figura paterna. Dora também não fica muito fã dessa interpretação e se manda do consultório.
Frustrado com a falta de sucesso, Freud, então, olha para a última ponta do quarteto: a senhora K. E se ela fosse a chave? Nesse caso, a senhora K é que seria objeto de encantamento para a jovem Dora. E os sintomas de Dora teriam aparecido depois que ela se dá conta de que o senhor K não é apaixonado pela esposa. A descoberta teria quebrado o encanto de Dora, que, se não tinha uma relação de desejo direto pela senhora K, tinha, pelo menos, um desejo pelo desejo que a mulher provocava nos homens (tanto o pai de Dora quanto o senhor K).
Pelo que li na internet, Lacan também retorna ao caso Dora e concorda que a chave para o caso era a relação de Dora com a senhora K. E vai postular que “desejar saber sobre o desejo do Outro é marca da histeria”.
Na escrita de Migalhas, achei que a histeria de Elvira — uma personagem que brinca com o seu poder de despertar o desejo ao mesmo tempo em que se ressente por ser vista como objeto do desejo — seria uma chave para dar razão a Liz. Uma vez que Liz admite o desejo que a amiga provoca, achei, a princípio, que ela estaria longe da histeria, mas não é bem assim. Para a psicanálise, a histérica quer descobrir o que é preciso para ser o objeto do desejo do Outro. E talvez essa seja uma chave de leitura para compreender porque Liz lê as ações de Elvira apenas pela chave da sexualidade. Ela deseja compreender o desejo que Elvira causa nos homens. Dessa forma, cheguei à conclusão de que minhas duas personagens eram polos opostos da mesma histeria.
Essa reflexão, de certa forma, me ajudou a trabalhar Liz com mais empatia, tendo em mente que, no fundo, ela dividia com minha protagonista mais do que eu imaginava.
Ainda não sei no que pode dar minha curiosidade pela histeria. Confesso que ainda tenho medo de falar ou escrever sobre isso porque me parece um terreno nebuloso. Mas, desde a escrita de Migalhas, tenho achado interessante o conceito para a análise de alguns personagens. A Ellen Hutter, do Nosferatu de Robert Eggers, por exemplo, parece um tratado descritivo da histeria nas análises clínicas de Freud. Também acredito que a personagem “O”, do clássico da literatura erótica A história de O, pode ser bem (melhor) compreendida partindo da questão de se ela seria ou não uma mulher com o desejo satisfeito.