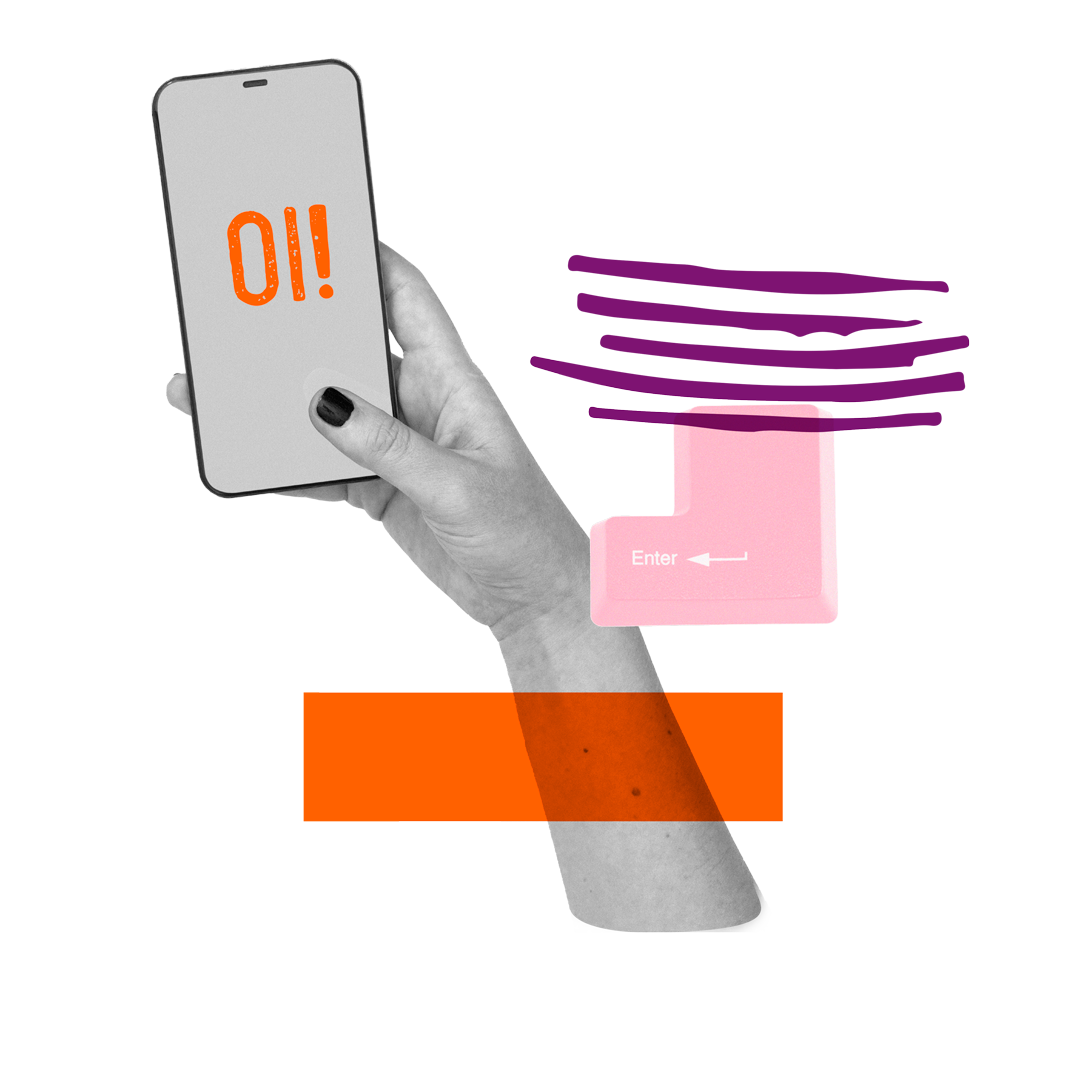Vai esquentando aos poucos, sem que eu realmente me preocupe com o aumento do calor, só sei que esquenta e que, quando chegar ao ápice, vou ouvir o estalo da água contra a superfície fina da panela de alumínio. O ruído abafado da fervura é apenas o primeiro anúncio do vapor que vai levantar em mais alguns minutos. Dez minutos no máximo, minha mãe me explicou, só até começar a sentir cheiro de cuscuz.
Dez minutos, repito em voz baixa quando percebo o barulho da água na panela, como se pela primeira vez me desse conta de que cabe um tempo inteiro da memória num espaço tão curto de cozimento. Nos grupos de estudos que compartilhamos, eu e ela passamos muito tempo pensando em tempos e territórios. Refletindo mesmo sobre isso, sobre esse tempo que parece um, mas nunca poderia ser. Porque nos mesmos dez minutos em que preparo o cuscuz nessa cozinha de piso branco e armários vermelhos em São Luís, há um cuscuz que cozinha mais do que deveria em uma cozinha mal iluminada de piso encardido e armários brancos em Niterói, no ano de 2018.
Percebo que nos dez minutos do cozimento do cuscuz, cabe também uma lágrima e uma saudade que afervento há mais de um ano. Saudades da repetição da imagem de Pollyane em frente à cuscuzeira, ignorando o meu conselho de que, em apenas 10 minutos, é possível sentir o vapor com cheiro que indica o cuscuz pronto.
No intervalo em que me revezo lembrando de uma Polly feliz e de outra pensativa no mesmo ritual de fritar o ovo, hidratar, temperar e cozinhar a massa do cuscuz, constato que não sei mais que gosto dar ao sabor familiar daquele prato. Como se, em Niterói, ele tivesse, mais que gosto de milho e ovo, gosto de pertencimento partilhado. Do meu pertencimento ao Nordeste, do pertencimento dela à família nordestina. Talvez o cuscuz seja sempre algo que escapa aos tempos e territórios, afinal.
Quando a cuscuzeira começa a emitir um leve chiado, acho engraçado que, de todas as comidas que dividimos, não seja o pão com mortadela, o risoto de gorgonzola com peras ou a carbonara que me empurre para fora da linearidade. É apenas esse prato corriqueiro, que fez parte de todos os momentos da minha vida. Por isso, penso que de alguma forma o cuscuz é nosso elo. Ensaio pegar o celular para perguntar a ela se é possível ter um elo tão profundo que chega a ser invisível, mas percebo que o vapor saindo da panelinha de dois andares agora também ganhou aquele cheiro que mamãe me ensinou a identificar.
Levo a mão ao painel do fogão no impulso de desligar as chamas, mas hesito em girar o botão. Só hoje, desejo imitá-la e deixar a massa ali, ainda recebendo vapor, mesmo sem precisar. Talvez, se eu acreditar que o cuscuz ainda não está pronto (nunca estará pronto), caibam ainda mais dez minutos para retornar a isso que era quase nada, quase um vício do nosso dia, mas que nesse instante se avolumou, assim como a massa do cuscuz ao receber vapor.
Alcanço um prato para colocar o ovo, que me aguarda já frito na frigideira. Ao olhar para os amassados da panela, acho graça do que faço sem nem ao menos saber. Talvez eu já antecipasse a saudade, talvez já soubesse do valor daqueles muitos mais que dez minutos de Pollyane.
A frigideira amassada até hoje é a minha preferida, veio comigo de Niterói. A cuscuzeira deixei por lá.
Esta crônica foi publicada na iniciativa Mulheres que escrevem. Somos um projeto voltado para a escrita das mulheres, que visa debater não só questões da escrita, como dar visibilidade, abrir novos diálogos entre nós e criar um espaço seguro de conversa sobre os dilemas de sermos escritoras. Quer colaborar com a Mulheres que escrevem? Acesse esse link, conheça nossa iniciativa e descubra!
Siga também nossas outras redes sociais: Facebook | Instagram |Twitter