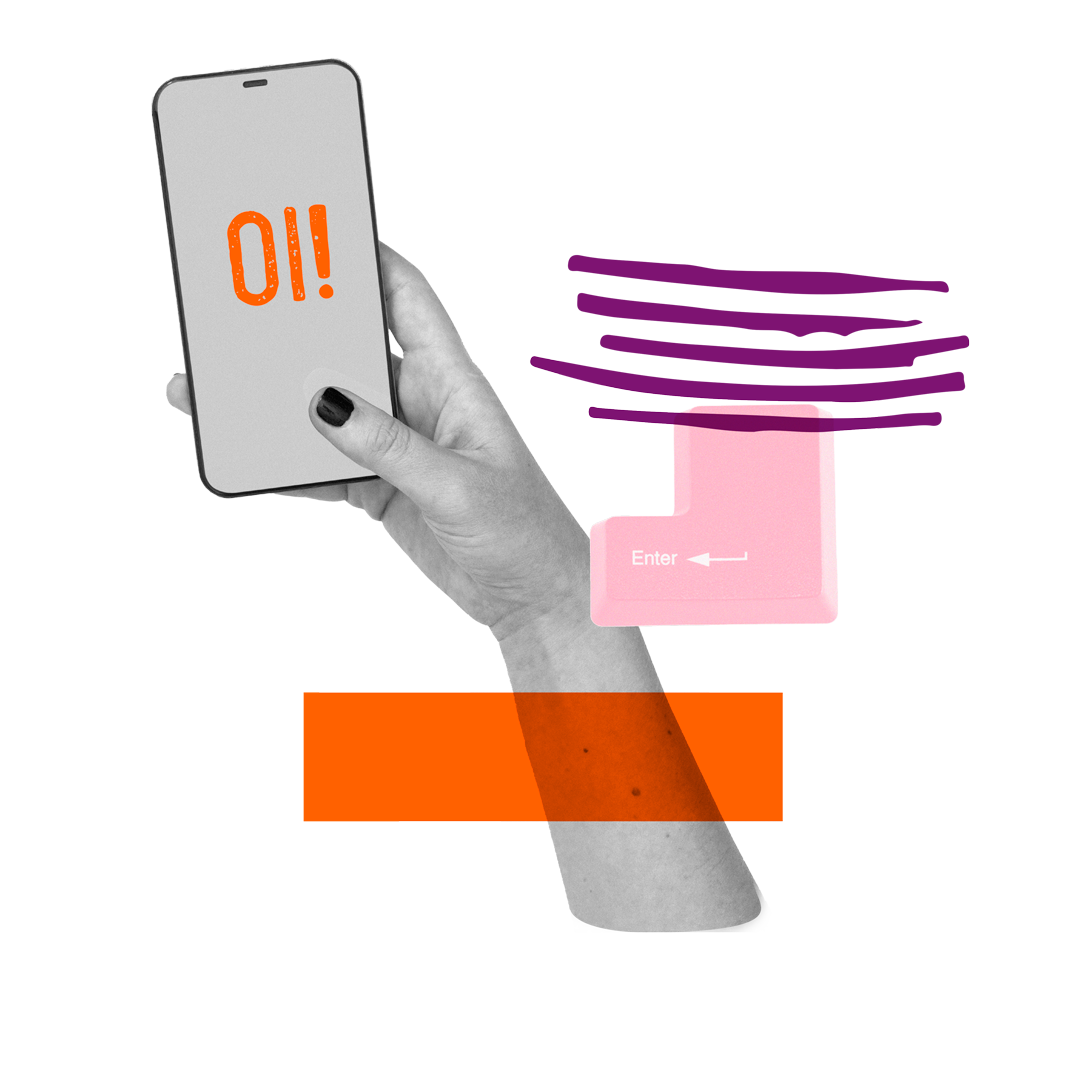Hoje mesmo vi um vídeo da Isabela Boscov dizendo que todo mundo está falando e escrevendo sobre Bebê Rena e, infelizmente, acabo de me tornar parte desse grupo. Finalizei a série antes do feriado, após três episódios seguidos, e comprometi meu horário de sono regular porque simplesmente não conseguiria dormir sem saber no que tinha dado de toda a bagunça na vida de Donny Dun.
Bebê Rena não é o tipo de série que eu assistiria sem uma recomendação, mas meu namorado estava curioso com os comentários e me convenceu a embarcar, contando que era baseada em uma história real do criador Richard Gadd. Ultimamente, esse é o argumento perfeito para me fazer ler ou assistir qualquer coisa. Veja bem, não-ficção não é a minha praia. Nunca tive preferência por documentários ou histórias baseadas em fatos reais. No entanto, tenho a impressão de que muitos acontecimentos recentes trouxeram a auto-ficção e não-ficção para o primeiro plano.
Na literatura, em uma olhada rápida, podemos achar que a tendência da “auto-ficção”, isto é, uma certa etiqueta que tem influenciado positivamente as vendas, é a resposta para o debate estar tão vivo. Mas, pensando na pós-modernidade, nas teorias decoloniais e em todo o discurso político sobre lugares de fala e representatividade, é de se cogitar também que a discussão está sendo construída há bastante tempo. Talvez eu apenas não estivesse olhando para ela com esse interesse.
Ainda assim, tenho a impressão de que neste ano essas temáticas estão mais vivas. Como minha amiga Barbara Carneiro observou, em 2024, tivemos dois filmes indicados ao Oscar que lançavam a questão da ficção para nós: Anatomia de uma queda (Prime Video) e Ficção americana (Prime Video). E, agora – pelo menos do que tenho conhecimento além das séries coreanas – Bebê Rena (Netflix) se torna uma das séries mais assistidas em mais de 30 países.
Há inúmeras possibilidades de abordagens para essas obras e para um assunto tão amplo como a fronteira da realidade e da ficção. Mas esse registro não é sobre isso, tampouco é uma crítica da série. O que me motiva a escrever é a vontade de comentar algo que me pegou de jeito em Bebê Rena: o quanto o autor, transformado em personagem principal, se compromete.
Acho que muitas vezes, na minha própria escrita, me flagro pensando no que entrego de meu. Tendo vivido muito mais como estudante que como escritora, eu sou bem apegada a algumas teorias que encontrei aqui e ali, e absorvi do meu jeito. A partir dessas leituras, eu acho que não é possível transformar, transcrever ou traduzir uma memória em palavras sem modificá-las completamente. E isso me leva a uma postura radical. Não uma do tipo “não há realidade”, mas do tipo “a não-ficção é um contrato de leitura, porque no fundo toda narrativa está mais no terreno da ficção que da realidade”.
Ainda assim, na escrita, muitas vezes quero me agarrar ao que já experimentei. Tentando recordar palavras exatas de diálogos que presenciei. Ou me recusando a escolher desfechos diferentes. Nesse mesmo sentido, talvez o movimento mais recorrente seja buscar conduzir a narrativa de forma que o leitor goste da personagem em que mais me coloco. Cada vez menos acredito que há um personagem que “sou eu”. Todos são. Mas há sempre um que representa como me vejo ou quero ser vista.
Isso me faz querer justificar mais as ações do personagem, oferecer contexto aos seus erros. Em contrapartida, dou menos espaço aos que escolho como antagonistas. Finjo justiça em alguns momentos, para não comprometer a verossimilhança, mas não disfarço a intenção. “Olhem, quero que vocês achem essa pessoa ruim”. Em Bebê Rena, há um pouco disso. Até o quarto episódio, não temos dúvida de quem é a antagonista, é a stalker Martha Scott, e entendemos os erros de Donny Dun, o personagem que o autor elegeu para si. Mas a partir desse episódio ocorre uma reviravolta. E, apesar de Donny expor ainda mais das suas feridas – que poderiam ter o efeito narrativo de nos ajudar a colocar em perspectiva seus novos e piores erros – comecei a questionar se ele não era pior que Martha.
Mais que o fim, me assombrou a escolha narrativa de retratar o inexplicável. O tesão do personagem com a stalker, o uso disso no seu relacionamento com Teri, a preservação do abusador. Há coisas que escolho deixar apenas na minha terapia, às vezes nem nela, e Richard Gaad parece oferecer o subconsciente ao julgamento do telespectador. Ou esquece completamente deste último. Até agora não sei o que dizer.
Nem questiono se esses aspectos em específico fazem parte da “ficção” do texto da série, porque, do meu lugar de mulher que escreve, não faz diferença. Há sempre o risco de que ser vista ali. E as nossas taras, estímulos, podem mesmo ser racionalmente justificadas? Eu não acredito nisso. O que me deixa com mais dúvidas e sensações.
Não sei se é corajoso brincar com seu eu personagem. Se é uma liberdade do momento de criação. Ou um privilégio de quem sempre teve direito à ficção.